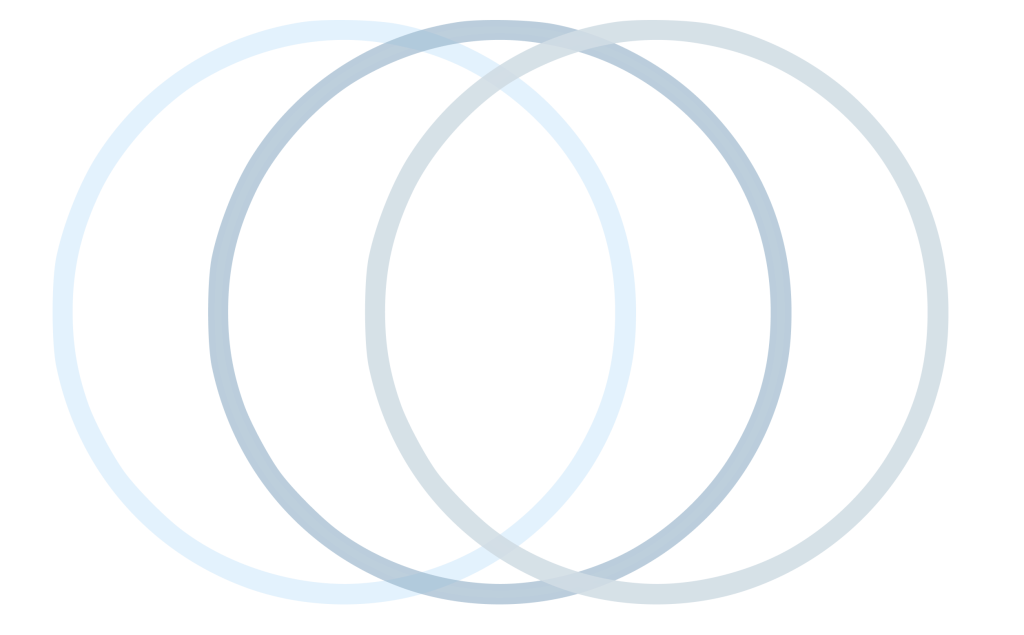Por Caroline Schirmer Götz
Publicado em
Atualizado em

Quando falamos de ensino de língua estrangeira, que língua vem à sua mente? Inglês? Espanhol? Português?! Sim, português! É claro que essa resposta vai variar de pessoa para pessoa, mas muitos brasileiros ainda não enxergam sua língua materna como uma potência para os estrangeiros. Não raras foram as vezes em que escutei “quem vai querer aprender português?”. Ora, a resposta é tão diversa quanto o povo brasileiro, pois temos interessados na nossa língua seja pelo amor aos sons produzidos por ela, pelas músicas, por querer um turismo mais imersivo ou por pura necessidade, isto é, para sobreviver com certa dignidade no Brasil devido a um processo migratório forçado ou voluntário.
É compreensível que ainda haja desconfiança por parte dos nativos: por um lado, devido ao vira-latismo – sim, aquele mesmo de Nelson Rodrigues – intrínseco à complexidade histórica do desenvolvimento do português brasileiro; por outro, pelo fato de o ensino de português como língua estrangeira/adicional ser um campo que, apesar dos avanços dos últimos anos, ainda apresenta mais perguntas do que respostas para suas questões. É inegável o aumento da produção de materiais, sobretudo na área de português como língua de acolhimento (PLAc), a exemplo das publicações “Pode entrar – Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados”, resultado de uma parceria do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) com Oliveira (2015) e outros pesquisadores; da coleção “Vamos juntos”, do Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” (NEPO, 2025); da implementação do Celpe-Bras como exame de proficiência em língua portuguesa a nível acadêmico, dentre outras conquistas que vêm ampliando as possibilidades de trabalho com populações migrantes ou refugiadas. Ainda assim, percebe-se pouca oferta de formação especializada pelo país, que ainda conta com poucos cursos de graduação e pós-graduação ofertados em Português como Língua Estrangeira/Adicional (PLE/PLA), sobretudo se nos direcionarmos às especificidades das línguas de origem de diferentes grupos, tais como os falantes de árabe.
Um exemplo é o conceito de “línguas distantes” – que se aplica com certa frequência quando falamos de línguas com menor semelhança à nossa – ser pouco discutido e definido na literatura, o que dificulta a reflexão para a tomada de caminhos no percurso do ensino para essas populações. O ensino de português para falantes de árabe é, sem dúvidas, um exemplo claro de como uma demanda não necessariamente influencia na oferta de cursos ou na produção de materiais, posto que o Brasil recebe migrantes de países árabes pelo menos desde o século XVIII (Da Costa Caffaro, 2020), mas nem por isso apresenta aparato para lidar com as necessidades de aprendizagem que emergem desse contexto. Não há formação específica para isso, e a ideologia monolíngue em que opera o Estado Brasileiro torna a situação mais delicada, ofuscando as possibilidades de um trabalho plurilíngue. Como consequência, muitos professores acabam ignorando as línguas de origem dos educandos e adotam o uso exclusivo do inglês com esse público e, ainda que esta geralmente seja a segunda língua deles, é um fator que, de certa forma, impõe mais uma barreira no processo de aprendizagem.
Um dos desdobramentos da omissão frente à língua de origem é a escassez de materiais didáticos que auxiliem o docente a compreender os desafios, os possíveis erros e, inclusive, as semelhanças dessa língua com o português. E, acredite se quiser: há muita influência do árabe na língua portuguesa, o que pode facilitar o envolvimento dos estudantes durante a aula, motivando-os a não desistir, visto que o caminho é longo e muitos se desmotivam quando se deparam com as diferenças entre as línguas. Há mais que evidências; há uma diversidade de trabalhos acerca da contribuição da língua árabe no português europeu e, por conseguinte, no brasileiro, com de cerca de 18.073 termos de diferentes classes gramaticais, segundo Adalberto Alves (2014). Ignora-se, portanto, a influência da cultura e da língua árabe sobre os portugueses, os quais chegaram ao Brasil com uma herança que seguiu em andamento ao longo das relações que as migrações produziam, a exemplo da presença afro-muçulmana dos malês, a influência libanesa no século XX (Abreu; De Andrade Aguilera, 2010) e a presença sírio-palestina no século XXI (Da Costa Caffaro, 2020).
Ao iniciarmos essa reflexão e reconhecermos o quanto a língua árabe compõe nossa identidade nacional e linguística, surpreende o fato de ainda constatarmos o persistente desconhecimento sobre esses povos e suas culturas, o reduzido contato com esse idioma e, sobretudo, a quase total ausência de materiais de ensino de português para falantes de árabe. O único material focado totalmente para esse público é o livro “Português para falantes de árabe”, publicado por Vargens e outros pesquisadores (2007), que possui uma perspectiva gramaticalista (Valezi, 2021) e foi produzido para um contexto específico de ensino de português numa universidade do Egito e, portanto, não dá conta das múltiplas realidades possíveis em que professores e estudantes se encontram no Brasil. Além disso, o livro citado trabalha com a variedade carioca, priorizando este sotaque e suas expressões nos áudios, além de abordar temáticas comuns ao Rio de Janeiro, as quais nem sempre são compatíveis com os costumes de outras regiões, o que gera um desencontro de informações para a construção do sentido cultural nas aulas. É claro que, num cenário sem outras produções, há de se reconhecer o pioneirismo dessa obra e a importância de se desenhar livros a partir das demandas dos estudantes – o que parece ter sido feito no trabalho citado a partir das expectativas de ensino-aprendizagem daquele contexto, isto é, de um país árabe. Há de se destacar, ainda, o texto oriundo dessa experiência “Ensino de português para falantes de árabe” (Da Silva, 2016), que apresenta os desafios da autora-professora durante o período em que esteve no Egito e acrescenta informações iniciais riquíssimas aos professores que trabalham com esse público e desconhecem as possíveis dificuldades linguísticas que se apresentarão. Contudo, como propõe Valezi (2021), é fundamental ir além de abordagens exclusivamente gramaticais na elaboração de materiais didáticos voltados a falantes de árabe, contemplando dimensões interculturais, socioculturais e discursivas. Isso implica adotar uma perspectiva decolonial que reconheça e valorize os contextos específicos de aprendizagem desses alunos, promovendo o diálogo entre saberes diversos e resistindo a visões essencialistas. Nesse sentido, inspirados na crítica de Edward Said ao orientalismo, é preciso recusar representações estereotipadas e assimétricas do “Outro” árabe, favorecendo uma pedagogia que articule diferentes experiências e promova vínculos interculturais mais horizontais, abrindo espaço para que esses sujeitos se reconheçam e se projetem de forma ativa nos processos de ensino-aprendizagem.
Não é fácil, certamente, traçar esse caminho, dada sua complexidade, que passa por questões de estereótipos de mídia, a distância entre as línguas e as próprias questões de cada indivíduo que chega ao Brasil por diferentes razões. No entanto, graças aos estudos e às experiências realizadas, há um olhar crescente para esse público, e a área vem se construindo – ainda aos poucos – de forma empática, vislumbrando possibilidades de atender às variadas necessidades de maneira consistente, cada vez mais holística e dialógica.
Referências
A LÍNGUA árabe no contexto educacional brasileiro. Produção: Políticas Linguísticas Críticas – UFSC. Youtube: [s. n.], 2024. Disponível em: https://www.youtube.com/live/rvJ14G70aLE?si=Gf-eQtPOJYpcp9n6 . Acesso em: 15 abr. 2025.
ABREU, Maria Youssef; DE ANDRADE AGUILERA, Vanderci. A influência da língua árabe no português brasileiro: a contribuição dos escravos africanos e da imigração libanesa. Entretextos, v. 10, n. 2, p. 5-29, 2010.
ALVES, Adalberto. Dicionário de arabismos da língua portuguesa. Lisboa: Leya, 2014.
DA COSTA CAFFARO, Paula. Um panorama sobre a Língua Árabe no Brasil e seu percurso até a sala de aula. Iniciação & Formação Docente, v. 7, n. 4, p. 849-861, 2020.
DA SILVA, Bianca Graziela Souza Gomes. ENSINO DE PORTUGUÊS PARA FALANTES DE ÁRABE. Revista (Con) Textos Linguísticos, v. 10, n. 17, p. 10-26, 2016.
DINIZ, Leandro Rodrigues Alves et al. Coleção Vamos Juntos(as)! Curso de Português como Língua de Acolhimento. Campinas: Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” – Nepo/Unicamp, 2025.
OLIVEIRA, Talita et al. Pode entrar: Português do Brasil para refugiadas e refugiados. Curso Popular Mafalda/Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados/Caritas Arquidiocesana de São Paulo. São Paulo, 2015.
VALEZI, Ana Júlia. O português no encontro com o árabe: aspectos do ensino de português como língua adicional para falantes de árabe. 2021. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Letras – Português como Segunda Língua / Língua Estrangeira) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2021.
VARGENS, João Batista de Medeiros; HARD, Geni; LIMA, Suely Ferreira; SILVA, Bianca Graziela; MENEZES, Heloísa Ellery de. Português para falantes de Árabe. 1. ed. Rio Bonito: Almádena, 2007.

Caroline Schirmer Götz
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) na linha de pesquisa de Linguagem, Política e Sociedade. Professora licenciada em Língua Portuguesa e Literaturas pela mesma instituição, leciona aulas de PLE para falantes de árabe e anglófonos.